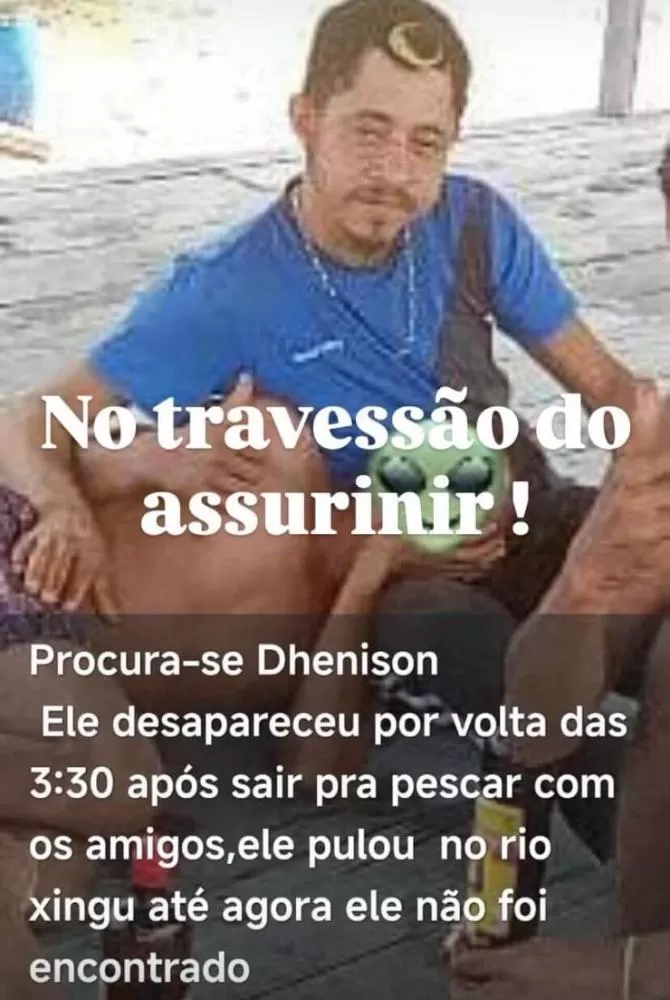Este 20 de novembro é o primeiro feriado nacional do Zumbi e da Consciência Negra. A data foi promulgada pelo presidente Lula no ano passado e compõe o calendário de comemorações, homenagens e manifestações do nosso País. Para celebrar com você, preparamos não uma matéria sobre a data, amplamente difundida, mas relatos de quem carrega na pele a cor da força, da resistência e bravura.
O texto apresenta parte da experiência de cinco homens e mulheres negros que somam para a construção de uma Altamira mais justa e digna, e que, mesmo sendo alvos de preconceito e racismo, nos inspiram com suas histórias de superação e lutam para que todos possamos ter direitos iguais, porque não podemos definir ou sermos definidos pela melanina que distingue os tons de pele. Esperamos inspirar você também. Boa leitura.

“Nascer preto já é uma missão”
No Brasil construído pelas mãos de 4 milhões de negros e negras chicoteados e lançados ao mar, cor de pele não diferencia apenas o preto do branco, do índio e do estrangeiro. E isso não é coisa que morreu com os escravos arrancados de suas terras para serem transformados em animais de carga e mão de obra gratuita. Ser negro no nosso País é carregar toneladas de preconceitos podendo ser a qualquer momento vítima de uma sociedade atroz. O Brasil é uma das nações que mais assassinam pessoas negras, com índice acima dos 76%, ou seja, a cada 100 vítimas de homicídio, 76 são pretas ou pardas. Quando os números se voltam para os jovens, a situação é mais gritante. 80% das mortes violentas no Brasil têm como vítimas pessoas entre 15 e 19 anos, aponta o Fórum Brasileiro de Segurança Pública/Unicef.
A luta pela vida da população negra está nos movimentos sociais, na bancada ainda tímida na Câmara Federal, nos projetos de reparação histórica, e também na arte. É o caso de Derley Santos, jovem artista, adepto de dreads, que usa a música como ferramenta de protesto e empoderamento, emprestando voz a quem foi para sempre silenciado. “A gente trabalha com arte e a gente sempre busca falar para o pessoal abrir mais a cabeça”. Derley faz 31 anos neste dia da consciência negra, tem dois motivos para comemorar: mais um ano de vida e a data que homenageia Zumbi dos Palmares, o maior líder quilombola brasileiro na luta pela libertação dos escravos. Se pudesse escolher um presente seria em forma de protesto. “Acho isso uma imbecilidade social, esquecendo tudo o que o ser humano é por causa de uma cor de pele. Como Bob [Marley, ícone da música e símbolo da negritude] fala em sua letra, ‘enquanto a cor da pele de um homem não tiver nenhuma significância que a cor dos olhos dele sempre haverá guerra’. E em Altamira não é diferente, Altamira é uma cidade racista demais. Nascer preto já é uma missão”, desabafa o artista.

Transamazônica, fome e luta
Mônica Brito é uma das figuras mais presentes nos movimentos sociais de Altamira. A professora faz parte do Movimento de Negros e Negras e coordena o Coletivo Maria Maria, o Centro de Formação do Negro da Transamazônica/Xingu. Com os movimentos sociais, Mônica ajuda a levantar a bandeira da igualdade e a enfrentar preconceitos ainda comuns contra pessoas diversas, especialmente, contra pessoas negras. “É um engajamento social para juntos e juntas podermos trabalhar de forma mais harmoniosa, em parcerias, com suas lutas específicas, e a gente junta as com maior teor, enfrentamento e combate ao racismo, discriminação racial e pela defesa da vida sem violência”, explica a ativista, que também coordena o Lesbitrans da Transamazônica e Xingu, movimento de mulheres LGBTQIAPN+.
Assim como milhares de brasileiros abraçados por Altamira, Mônica chegou ao maior município do Brasil na década de 70, durante a abertura da BR-230, a Transamazônica. As lutas por direitos e igualdade iniciaram ainda na juventude. “As pessoas eram chamadas de colonos, fazendo o que o sistema pregava: ‘proteger para não entregar’”, recorda a época em que o slogan do governo vendia a ideia de que a região não passava de uma grande área de mata e bicho, sem atrativos para investimentos ou rentabilidade econômica. “Eu era uma das militantes muito jovem, mas tinha o Ensino Fundamental mais avançado que os outros, então eu passei a dar aula. No final dos anos 70, eu já fui contratada e de lá pra cá eu nunca mais abandonei, nunca mais soltei a mão da política educacional”.
Censo do IBGE de 2022 aponta que o analfabetismo entre pessoas negras é de 7,4%, mais que o dobro do registrado na população branca (3,4%). Formada em Pedagogia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Mônica não faz parte da estatística, mas sabe que, enquanto teve a chance de estudar, muitos são forçados a abandonar a escola ou sequer conseguem ter acesso a uma. “Eu vinha [da escola]em cima de trator, a escola ficava a 10 quilômetros de distância, eu pegava carona. Eu tive que fazer muitas coisas para continuar com a minha luta e com a minha família”. A professora lembra que para conseguir terminar os estudos enfrentou dificuldades que só não a fizeram parar no tempo porque sabia que precisava lutar para que ela e a família tivessem dias melhores. “Minha mãe preta, meu pai preto, meu irmão preto. A gente teve dificuldade, só pegava mixaria [do dinheiro pelo trabalho que faziam]. Meu pai trabalhava pela comida e ainda ficava devendo outro mês. A gente passou muita fome”.
Os movimentos sociais na Transamazônica/Xingu surgiram no início da década de 80, quando a região foi transformada da noite para o dia em formigueiro humano. Com exceção dos chefes escolhidos pelo governo da época, todos os trabalhadores que abriram a BR eram pobres e negros. As péssimas condições de trabalho, a dificuldade de acesso à educação pública e a perspectiva irrisória de melhorias fortaleceram as lutas de movimentos que hoje são referência. Mas, muito do caminho da igualdade ainda precisa ser percorrido.

Religião não deveria tem cor
Valdenora Ferreira é conselheira de saúde, negra e ativista pela igualdade racial. Na bagagem carrega experiências que a ajudam a encarar um caminho espinhoso e portas que se fecham. Tudo é mais difícil quando se é mulher negra, sentencia. “Minha vida é uma vida corrida, sofrida porque nós temos muitas dificuldades, principalmente aqui em Altamira pra resolver as coisas. A luta é muito grande”.
Desde que ingressou nos movimentos sociais, Valdenora acompanha diariamente histórias de pessoas negras que, assim como ela, sofrem discriminação. Mesmo com a saúde debilitada, a conselheira consegue forçar para ajudar a comunidade. É a mesma força com a qual resistiam seu ancestrais açoitados. “A minha luta é essa. A minha vida é correr atrás dos objetivos dos outros, pelo movimento”. Natural de Almeirim, município paraense localizado no Baixo Amazonas, Valdenora mora em Altamira há 27 anos. “Eu queria que as pessoas nos enxergassem como seres humanos porque, assim como a gente enxerga o branco como ser humano, deveriam enxergar a gente, dar valor pra gente. Todo mundo é igual”.
Como não fosse absurdo ser discriminada pela cor da pele, Valdenora é alvo por ser membra da Umbanda, religião de raízes africanas. A Umbanda surgiu no Brasil em 1908 como resultado da tríade candomblé-espiritismo-catolicismo. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o País tem 432 mil umbandistas (0,23% da população). A religião está diretamente ligada aos povos negros e enfrenta bloqueios sociais desde sua fundação. “Como umbandistas nós somos discriminados bastante. Eu queria que me respeitassem. Umbandista é ser humanos, nós respeitamos e nós queremos ser respeitados”. Intolerância/violência religiosa é crime e pode ser punido com 2 a 5 anos de reclusão. Denuncie, Disque 100.

Diversidade na cor e nos corpos
O Brasil figura no topo da lista dos países que mais matam mulheres trans e travestis. O levantamento global aponta, ainda, que 80% das vítimas são negras, colocando o racismo, mais uma vez, como causa de crimes violentos e fatais. Dandara Rudsan, mulher travesti, negra, acompanha de perto a luta da comunidade. Como bolsista do ProUni, cursou Direito, ingressou no Mestrado e usa das experiências de vida e o que aprendeu na universidade para aprimorar a luta pelos direitos de pessoas LGBTQIAPN+. “Enquanto uma mulher travesti negra, fui retirada do seio familiar, fui expulsa de casa pelo meu pai, já fui criminalizada enquanto defensora de direitos humanos, vivi em situação de rua por dois anos e depois de todo esse processo, eu consigo alavancar essa carreira jurídica e atuo como pesquisadora a partir dos movimentos sociais”.
Dandara é uma daquelas pessoas que nasceram forçadas a lutar pela própria sobrevivência. Resistir é quase um mantra que carrega para continuar lutando para que mulheres travestis, trans, negras e outras diversidades sejam respeitadas e tenham lugar e direito de fala. “Não sei se fui eu que escolhi os direitos humanos ou os direitos humanos me escolheram. Minha vida se confunde com o trabalho”. O trabalho que a ativista desenvolve se expande para além da diversidade. Preocupada com os interesses do mundo e os impactos do homem sobre o Meio Ambiente, Dandara tem agendas plurais. “Eu atuo principalmente na agenda socioambiental e isso faz com que a gente não esteja em outro lugar que não seja nos movimentos sociais”.
Como mulher travesti e negra no País que mais mata seus pares, há espaço para sonhar com um Brasil realmente igualitário e justo para todos? “A sociedade que eu sonho é uma sociedade sem violência para esses corpos existirem em plenitude”.

Foto: Globo/Bob Paulino
A cor da juventude para além dos muros
Daniela Silva, ativista de movimentos da juventude negra em Altamira, quebrou barreiras geográficas atrás de respostas para questões que pautam nossa rotina. Mas, principalmente, para apresentar uma versão mais próxima e fiel da Amazônia que enche os olhos do mundo. Hoje, o trabalho desenvolvido pela também ativista ambiental ecoa em outras regiões do Brasil e no exterior.
Na COP 28, maior mesa de debates sobre meio ambiente da ONU, a jovem altamirense levou as experiências da população mais vulnerável da maior floresta tropical do mundo. “Tenho conseguido ocupar espaços importantes para contar e evidenciar que nós mulheres, pessoas negras, temos muito o que contribuir com o nosso País, com o mundo. Podemos, sim, estar em espaços de representatividade e colaborando com um mundo melhor, tendo a diversidade como potência”.
Esses espaços que Daniela consegue ocupar não são acessíveis a todos os jovens, menos ainda aos jovens negros. Conseguindo mostrar que independe da cor para se fazer gigante, ela representa uma parcela tímida, mas aguerrida, que resiste. Pode estar na juventude a missão de derrubar os muros que divide as pessoas pela condição social, pelo status econômico e pela cor. “Desde criança eu compreendi a minha condição social e toda essa formação e essa vivência me fizeram ser o que sou hoje”, reflete.
Deveria ser mais que uma data
Todos os anos, o 20 de novembro é lembrado como a data de luta pelos direitos das pessoas negras, tendo Zumbi dos Palmares como seu maior símbolo. No Brasil Colonial, das senzalas onde viviam aprisionados e dos terreiros onde ensaiavam capoeira, milhões de negros, arrancados da África para serem escravizados no aqui, construíram o País mais miscigenado do planeta. Somos filhos da negritude, carregamos o DNA dessa gente forte que resistiu aos séculos e à crueldade de quem a explorou. Por isso, o 20 de novembro não pode ser limitado a uma data ou a um feriado comum. Neste Dia da Consciência Negra precisamos primeiro ter consciência de quem somos e de como queremos ser tratados. Cor de pele não deveria definir pessoas, corpos e espaços.
Créditos:
Texto: Rômulo D’Castro
Produção: Antonio Luiz Ferreira
Fotos: Arquivo pessoal
Capa: Jeferson Serrão